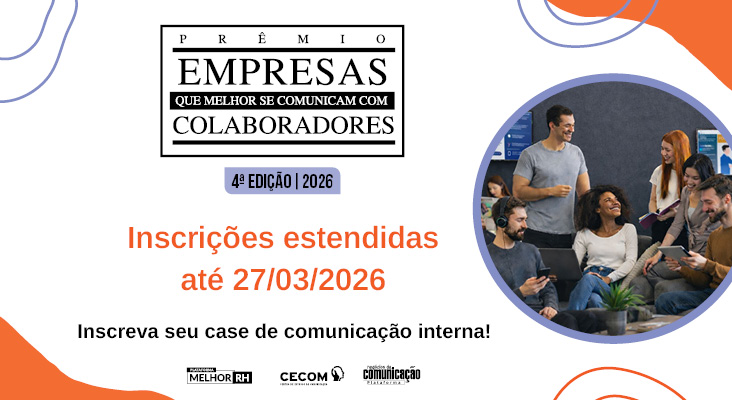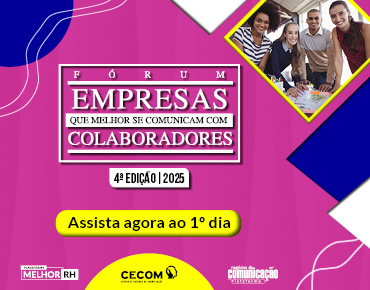Nunca o Brasil precisou tanto do jornalismo profissional como agora. A enxurrada de fake news, que confunde as pessoas e gera desentendimento nas famílias e no trabalho, e a manipulação de conteúdo de texto e imagens com as novas tecnologias, fazem com que o trabalho sério de profissionais de imprensa seja um diferencial para quem deseja ser realmente bem informado. Principalmente num ano de eleições, onde a escolha de candidatos pode estar comprometida com tanta falsidade de sites fakes e falsos influenciadores. Por outro lado, a cobertura policial ainda abriga fake news e estereótipos pela falta de cuidado de quem as produz.
Esses assunto foram amplamente debatidos durante o 6º Fórum de Jornalismo Especializado, Regional e Comunitário, evento organizado pelo Cecom – Centro de Estudos da Comunicação e Plataforma Negócios da Comunicação, durante os dia 20 e 21 de maio, no formato on-line e de acesso gratuito.
Abrindo o evento, Márcio Cardial, diretor do Cecom e publisher da Negócios da Comunicação, falou da importância óbvia do jornalismo que contribui para desvendar malfeitos e falta de políticas públicas em todas as esferas e, apesar desse papel meritório, sofre uma crise conjuntural com o fechamento de inúmeros veículos de imprensa pelo país, e sem o jornalismo geral ou o especializados, deixa de dar voz ao cidadão comum. O deserto de notícias aumenta, com várias regiões não tendo mais veículos regionais. Empresas e consumidores precisam de informações precisas para tomar decisões. A importância do jornalismo para a sociedade não pode ser subestimada. Ela é a bússola da opinião pública, educa os cidadãos e fomenta o debate crítico”. E ainda é particularmente importante neste momento para o país no enfrentamento das fake news.

No painel “Opinião é informação? – O papel do jornalismo opinativo no combate às fake News”, participaram Diogo Sponchiato, editor-chefe da Veja Saúde; Gilberto Scofield Júnior, executivo de contas e mentor de projetos jornalísticos digitais; e Vicente Nunes, correspondente Internacional no Correio Braziliense.
Nunes foi enfático, respondendo a pergunta proposta no painel, apontando que uma boa opinião sempre é uma informação. Hoje em dia estamos sendo inundados de notícias falsas. As pessoas abrem essas mensagens em aplicativos e replicam sem refletir, criando uma onda de inverdades. “A mentira que vira verdade”, disparou. E avalia como outro problema a guerra de informação entre jornalistas profissionais, cada um querendo dar uma notícia em primeira mão. Isso deixa Nunes preocupado: “Vejo nos noticiários de TV os apresentadores com celular na mão, aberto no WhatsApp e dizendo que determinada fonte está lhe passando informações”. Sem checagem. “O jornalista deve ter preocupação com as notícias verdadeiras. É importante que os jornalistas não sejam propagadores de notícias falsas, que chequem os fatos e não sejam pressionados pelo desejo de ser o primeiro a dar uma notícia”.
Scofield, por sua vez, disse que uma boa opinião pode trazer informação. Mas, com a profusão de redes sociais, a opinião fiou transvertida de informação. “A opinião depende de informação apurada”, e foi enfático ao apontar que a desinformação é o maior fenômeno de mídia do século 21.
Desinformação na pandemia
Sponchiato lembra as desinformações na época da pandemia, pois tinha tanta gente falando por todos os lados, mais que as fontes seguras, como infectologistas, e todos, jornalistas e público ficaram perdidos nesse emaranhado de falas. “Os algoritmos, estranhamente pegam essas notícias falsas, como Terra plana, e colocam nas buscas, acima das notícias verdadeiras, ajudando a propagar desinformação. Para Scofield, o conteúdo falso é tratado por essas mídias de forma sistêmica e é propagado com maior intensidade , mais instagramável, mais viralizado, do que fontes da ciência. É um sistema baseado em audiência, esse é o pano de fundo.

“Esse foi um grande case de desinformação”, destacou Sponchiato, falando da época da pandemia. “A falsa opinião se junta com desprezo das evidências científicas para se construir um fenômeno de descrédito. Isso causou um problema de saúde pública, pois, prejudicou ou atrasou, não só a vacinação contra a Covid, mas até hoje ainda afeta as campanhas de vacinação de outras doenças. Por cobrir saúde e divulgação científica, o editor da Abril destacou que no início da pandemia havia uma dificuldade na cobertura, pois nem os próprios cientistas sabiam direito com o que estavam lidando. Tudo era muito novo. Uma nova doença. Um terreno perfeito para teorias da conspiração e pseudos conselhos. “Fizemos cobertura com a ciência trabalhando ao vivo. Algumas informações não procediam e caíram por terra, mas esse período muitas vezes, profissionais médicos que não entendiam muito dessa especialidade, começaram a ser porta-vozes do que seria melhor para prevenir a covid. Até dermatologia dando opinião, por exemplo. Pela falta de jornalismo especializado, a imprensa deu voz para esses profissionais desinformados.” E as redes sociais amplificaram. “Não podemos nem aceitar a opinião de um único especialista, por mais conceituado que seja, devemos aprender a ler pesquisas, evidências científicas”, recomenda agora.

Vicente concordou e acrescentou que, na época da pandemia, quando necessitávamos de vacina, no início, apareceram pseudo-cientistas falando para não vacinar. “É a clássica teoria conspiratória”, complementou Scofield, “com delírios como laboratórios tentando dominar o mundo, implante de chips para controlar as pessoas”, entre outros exageros. “Teoria da conspiração misturada com ignorância, com ingenuidade, É algo complexo de combater”. E cita o exemplo do jornalismo declaratório, que foi muito usado na época do governo negacionista de Jair Bolsonaro, quando a imprensa focava apenas fontes oficiais, sem checar o que falavam, sem confrontar com fatos ou evidências científicas. Isso contribuiu muito para desinformação durante a pandemia.
Nunes faz o mea culpa pela imprensa, dizendo que também somos culpados por dar voz a determinadas figuras polêmicas, como Olavo de Carvalho, uma espécie de guru do governo Bolsonaro, e que durante muito tempo foi colunista de um grande veículo, uma pessoa sem qualificação acadêmica, que se autodenominava filósofo, sem formação, mas também era astrólogo, e criador e divulgador de teorias da conspiração que influenciaram até um ex-presidente, e as políticas públicas de uma época. “Olavo de carvalho passava desinformação e não opinião”, destaca. “As empresas jornalísticas deveriam aprender com esse episódio e agora ser muito mais seletivas nesses espaços opinativos, e não colocar ali pessoas que disseminam fake news. E sugeriu que tudo isso passa por educação midiática, educação dentro das escolas, nas redações. Vicente, que atualmente trabalha como correspondente de seu jornal em Portugal, avaliou que os jornalistas portugueses são mais contidos nessa questão de divulgar informação sem checagem. “Não compram tanto o que uma pessoa diz na primeira entrevista, nem correm para publicar primeiro uma determinada matéria sem checar”. O problema é que Portugal, ainda segundo Vicente, estava imune às fake news até pouco tempo, mas agora, “com a chegada dos brasileiros, imigrantes de extrema direita, as fake news começam a surgir com força. Em 2022, por exemplo, situa, enquanto a extrema direita fez sete deputados em Portugal, agora, nas eleições deste ano, fez 50. “Os influencers brasileiros da extrema direita vieram para Portugal e montaram uma base de operações”, denuncia Vicente. “Mesmo a gente, com muita informação, muitas vezes não conseguimos enfrentar essa máquina da notícias falsas. Pois são opiniões que entram no emocional das pessoas, não no racional. Pessoas sectárias acabam se sentindo confortáveis em acreditar nessas mentiras convenientes”.
A respeito das regulamentação das big techs, o PL 2630, todos os participantes do painel avaliaram que era, ou é ainda, uma proposta avançada, que resolveria muitos problemas de disseminação das fake news, responsabilizando as big techs e forçando elas a ter maior controle no que divulgam. Entretantos, por interesses de políticos que se beneficiam das fake news, o projeto não foi para a frente. “Algum tipo de controle deveríamos ter, pois algumas informações fazem mal aos cidadãos, não tem como não responsabilizar um espaço na mídia digital que divulga mentiras”, opiniou Sponchiato.
jornalismo policial investigativo
Além das fake news, outro assunto da atualidade é a cobertura policial e investigativa. O jornalismo policial já teve muitos representante no jornalismo impressos, veículos de grandes tiragens. Mas, felizmente, saiu de moda até pelos excessos de violência e desrespeito aos direitos humanos. Mas prossegue hoje, representado nos programas policiais sensacionalistas de TV, com os mesmos vícios. Por outro lado, está sendo revivido o bom jornalismo investigativo. Para falar sobre esse assunto no painel “True Crime e a popularização do jornalismo policial e investigativo“, foram convidados Paula Passos, mestra em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e atualmente jornalista freelancer, que fez uma ampla pesquisa sobre a linguagem do programa Profissão Repórter, acompanhando sua produção e que foi tema de sua dissertação de mestrado; Danilo Duarte, da Universidade Estadual do Sodoeste da Bahia (Uesb), pesquisador, que também escreveu um livro que trata do jornalismo policial na TV; e Juvercy jr, editor-chefe de uma redação com quase 250 jornalistas – O jornal O Tempo, da Sempre Editora, de Minas Gerais, que também edita o Super Notícias, que chegou a ser o jornal impresso mais vendido no Brasil.

Paula Passos, acompanhou durante um longo tempo a equipe do Profissão Repórter, fato que gerou um livro (Profissão Repórter – a fórmula que deu certo), e seu olhar isento, por não fazer parte da equipe, e observando da pauta, trabalho na rua até a edição final, trouxe reflexões importantes. Sua tese de mestrado também foi a linguagem do programa, que se aproxima do cinema e tem influências do New Jornalism. Hoje trabalha também com audiovisual e cinema. “O jornalismo está se refinando e migrando muito para o formato de streaming, de séries. O Programa Profissão Repórter, coordenado por Caco Barcelos, na TV Globo, por exemplo, se apropria da linguagem do cinema e fala muito sobre direitos humanos e justiça social, na TV. E esse tipo de linguagem engaja mais quando é transferida para produções em documentários ou séries. Ela critica o racismo arraigado em muitos programas policiais hoje, o que não acontece no Profissão Repórter, destaca, vitimizando e culpando as vitimas muitas vezes, quando se trata da população mais pobre. Diferenciando a abordagem com pessoas brancas e pretas.
Juvercy foi repórter policial, quando se usava essa denominação, hoje quase em desuso. E atuava em Belo Horizonte, no início dos anos 2000, uma cidade muito violenta na época, com uma média de 40 homicídios aos finais de semana. “Tinha um fluxo alto de produção desse conteúdo, mas era diferente. Hoje o jornalismo policial é feito por toda a equipe, E hoje se utiliza da própria informação que chega das comunidades, das pessoas. E aí fazemos um trabalho mais investigativo da notícia. Hoje existe esse compartilhamento de informações. O jornalismo de crime mudou de várias maneiras, uma delas da forma como você divulga. Temos que seguir padrões, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); atravessamos uma mudança de rota no conteúdo, e é para melhor. Hoje o jornalismo não detém a informação. Ele produz, compartilha e propaga informação”.

Para Duarte, autor do livro Jornalismo Policial na TV Brasileira, que abordou um contexto diferente quando foi lançado, época em que havia programas policiais sensacionalistas de fim de tarde, um mundo cão – como qualifica -, câmara aberta enquadrando um suspeito, e o repórter fazia o tribunal midiático, onde o pretenso criminoso era julgado e sentenciado pelo apresentador do programa. A contrapartida atual é o programa Linha Direta, que voltou, na TV Globo, com um tratamento um pouco diferente, com foragidos da justiça como grandes personagens, ajudando o trabalho da polícia em recapturar esses criminosos. “Hoje cresceu muito a produção de reportagens policiais no streaming e séries”. Como exemplos que vivaram filmes, os casos Isabela Nardoni (a menina assassinada pelos pais, e ainda em “A menina que matou os pais” (caso Suzane Von Richthofen), “O Impacto Brutal”, o assassinanto da atriz Daniella Perez; o caso do Amarildo ( um ajudante de pedreiro brasileiro que ficou conhecido nacionalmente por conta de seu desaparecimento, desde o dia 14 de julho de 2013, após ter sido detido por policiais), o caso Flor de Lis (assassinato do pastor Anderson do Carmo de Souza em 16 de junho de 2019 em Niterói, no Rio de Janeiro), o caso do médium João de Deus (acusado de assediar sexualmente várias mulheres) e o caso do assassinato brutal do jornalista investigativo da TV Globo, Tim Lopes, “É um tema em alta e problematizado na TV brasileira”.
“Esses casos, como também os dos serial killers, muito famosos, parte do desejo humano de saber a verdade”, classifica Paula. “Lida com nossas emoções”. Ela acrescenta o cuidado da cobertura, com pessoas já fragilizadas, vitimas da violência, Os jornalistas precisam refletir em suas produções, como cobrir esses assuntos, para não reafirmar estereótipos e criminalizar a população pobre e vitimizando ainda mais pessoas que passaram por perdas.

Juvercy acrescenta os perigos da desinformação na área citando um caso prático. Há dois anos aconteceu um caso emblemático na capital mineira , de um porteiro de uma escola conceituada que foi acusado pela mãe de uma aluna de entrar no banheiro feminino do estabelecimento e cometer um abuso com uma criança. A Polícia foi acionada, o porteiro foi preso. “Todos os veículos de comunicação foram para a escola e fizeram cobertura ao vivo. A casa do porteiro foi incendiada e ele foi jurado de morte pelo PCC. Passadas duas semanas, após ampla exposição da imagem, do nome do porteiro na mídia, era a palavra de uma mãe contra a de um porteiro, em prisão preventiva. A mídia passou um rolo compressor, divulgou e esqueceu o caso. Mas depois, a própria mãe foi à delegacia e confessou que inventou a história numa crise psiquiátrica. A criança, uma menina de sete anos, confirmou que nunca entrou no banheiro naquele dia”. Para o porteiro, o caso não tinha mais volta, mesmo inocente. “Esse é o tamanho de nossa responsabilidade. Nós fomos o único veículo de comunicação que ouviu a versão dele e acompanhamos o caso. Os demais veículos não falaram mais sobre o assunto. É o risco falta de apuração e de cuidado e da velocidade da informação que divulgamos. Gera uma responsabilidade muito grande para o jornalista. Os veículos de comunicação decretaram a sentença ao porteiro, e não se sabe o paradeiro dele até hoje”.
Manual de redação
“Os manuais de jornalismo e as disciplinas de ética nas faculdades insistem que devemos ouvir o outro lado, o acusado também tem o direito de fala”, destaca Duarte. “Sem isso reforçamos o estereótipo. Essa versão da história por parte do acusado é muito negado no jornalismo policial porque é uma produção feita ao vivo, e damos voz apenas às fontes oficiais: policia, ministério publico, guarda municipal”. Para fazer a cobertura mais justa, Paula sugere analisar a cobertura da imprensa nos próprios documentários e séries. Como o caso do Profissão Repórter, que mostra como a imprensa trabalha. Acompanhando a história por meses, mostrando como a imprensa cobriu o caso. Mostrar o bastidor da notícia é importante. “Pois o jornalista também é humano, e é impactado pelas histórias. Essa autoanalise, autocritica da cobertura da imprensa é importante para a prática diária”.
“O conteúdo de violência e crime de todos os tipos sempre ranqueia bem na audiência, principalmente nas redes sociais, que causam comoção e revolta”, revela Juvercy. “Aqui na empresa onde trabalho temos algumas diretrizes: no trato de suspeitos presos, não mostramos o rosto, não divulgamos o nome dele nem o endereço do caso, e sofremos muita pressão de pessoas nos cobrando e dizendo que estamos protegendo um bandido”.
“Também deve-se ter cuidado maior com as imagens da vitimas, não expô-las, tanto em crimes como em catástrofes”, acrescenta Duarte, “saber trabalhar com a dignidade as vitimas. O formato do jornalismo policial é muito espetacularista e imediatista, e mudanças estão acontecendo nos últimos anos, mas de forma lenta. O jornalista deve ter responsabilidade social com o conteúdo, e cuidado com o tratamento dos dados, com a checagem, e ouvir todos os lados”.
Assista aos dois dias de evento, clique nos links:
APOIO: